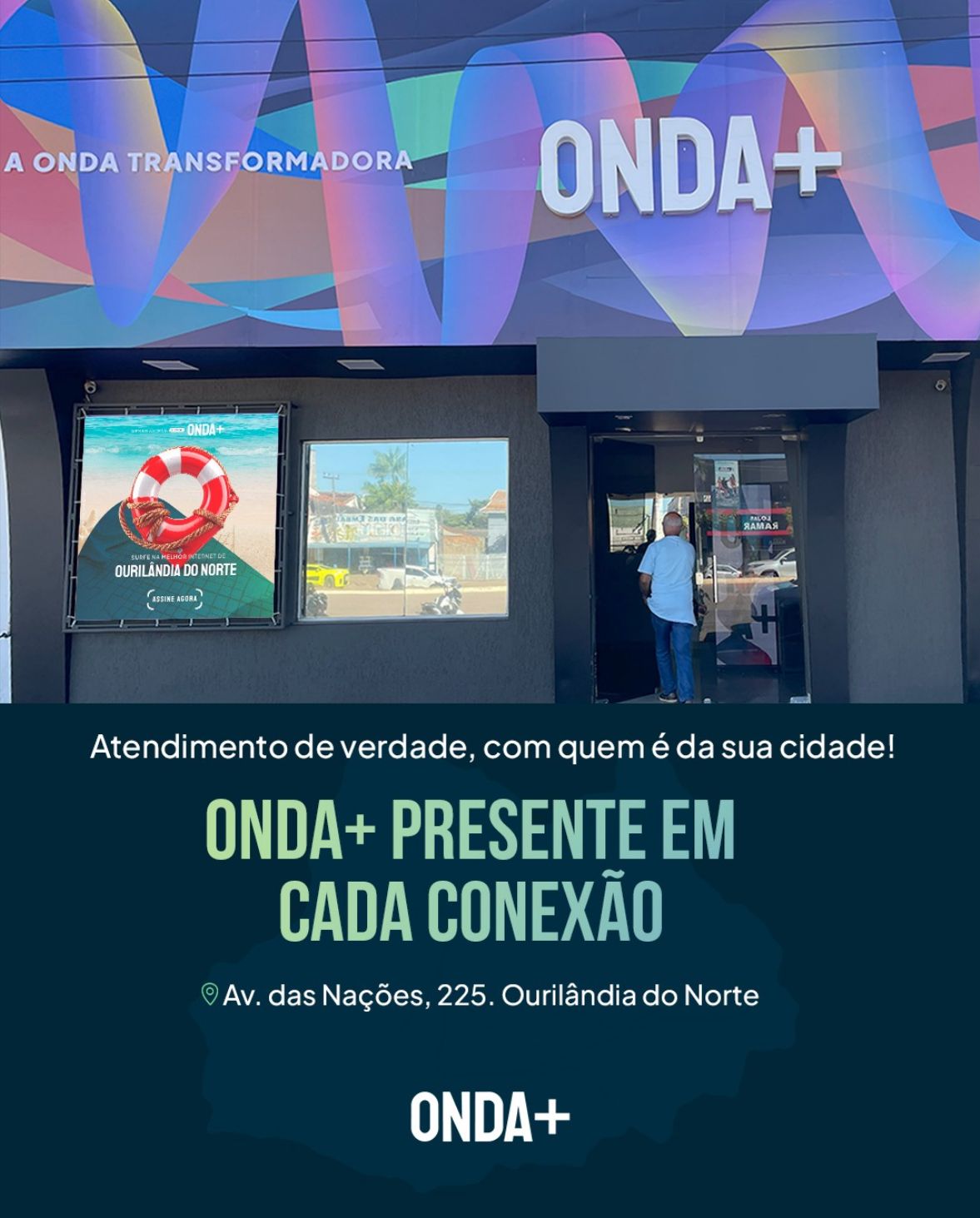Ninguém sabe afirmar, com certeza, qual é o conteúdo da tão alardeada reestruturação de “Wolverine”, anunciada pela Marvel para fevereiro de 2020, com texto de Benjamin Percy (“Arqueiro Verde”, “X-Force”) e arte da lenda Adam Kubert (“Ultimate X-Men”, Hulk) e Victor Bogdonavic (“A Silenciadora”).
O que se sabe: após uma guinada de paz em sua vida, com os mutantes lotados na Ilha de Krakoa, o bom e velho Logan se vê às voltas com a hipótese de formar uma família, até que um perigo inusitado bate à sua porta. Não é uma sinopse das mais ricas, mas é um indicativo de que a trilha aberta com a fase grisalha e combalida de Logan vai dar lugar a uma imagem mais jovial do herói. Jovialidade que não abafa o peso de excelência que a versão de cabelos prateados do baixote teve, a partir do filme de enorme sucesso de 2017, pilotado por James Mangold.
Em cartaz com “Ford vs. Ferrari”, um potencial concorrente ao Oscar, Mangold deu a Wolverine sua mais trágica tradução no audiovisual, apoiado no carisma de Hugh Jackman, dublado aqui pelo genial Isaac Bardavid. Neste início de ano, Jackman voltará às telas à frente de “Reminiscense”, de Lisa Joy, sobre um cientista obcecado em reaver um amor de ontem. Mas, seja qual for o projeto que tenha pela frente, o astro é sempre cobrado pela decisão de ter aberto mão de seu personagem mais famoso. Foi uma escolha em nome da diversidade de papéis. Mas ele deixou seu manto de X-Man em alta, dada a força de “Logan”. O longa-metragem, cujo orçamento foi de US$ 97 milhões, arrecadou US$ 619 milhões e ainda papou uma indicação ao Oscar de melhor roteiro.
Estamos, aqui, diante da Ilíada de um tempo em crise com o conceito clássico de heroísmo: a franquia “X-Men”. De seus derivados, “Wolverine” é o mais famoso deles, estrelado por um Ulisses trágico. Seus heróis são rebentos do que pode se entender como o legado nº 1 da cultura digital para a dramaturgia audiovisual: o conceito de meta-cinema. Filhos do Átomo, os discípulos de Charles Xavier, criados nas HQs por Stan Lee em 1963, tornaram-se cinema como Filhos da Geração DVD.
A partir do fim dos anos 1990, quando a tecnologia informática permitiu o advento das bolachinhas chamadas de Digital Versatile Disc, toda a memória fílmica produzida no mundo, até aquele momento, encontrou um escoamento (e um veio de preservação) biblioteconômico, que nos permitiu não apenas acesso a cópias de uma comédia de Harold Lloyd (1893-1971) feita em 1919, mas também a toda uma fortuna crítica sobre ela: os chamado extras.
Diferentemente do que se viveu na era VHS, todo DVD era um casamento de entretenimento com aula de História, o que alfabetizou uma nova linhagem de cinéfilos e reeducou o olhar dos mais velhos, criando, em ambos, uma percepção de que a realidade – do Presente e do Passado, sobretudo – é mediatizada, ou seja, existe o passado real, concreto, e existe o passado que o cinema nos ensinou. Nossa ideia da Chicago dos gângsters não é a Chicago dos documentos, calcada em fatos: nossa Chicago é a de Brian De Palma em “Os Intocáveis”. Ou seja… verdade dá lugar a simulacros. E simulacros produzem simulações da vida, uma meta-vida, onde imagem não é só um corredor que nos leva a experiências sensíveis: imagem é a experiência em si. E “Logan” é uma delas. Das melhores.
O que a práxis do simulacro produziu foi um meta-cinema. Veja, por exemplo, o caso de alguns de seus maiores artesões. Pedro Almodóvar (“Dor e Glória”) e Wong Kar-Wai (“Amor à Flor da Pele”) criaram, com base em seu mergulho em mestres do cinema e do folhetim (Vincente Minelli e Douglas Sirk sobretudo), uma ideia de meta-melodrama, ou seja, uma reflexão sobre os sofrimentos do querer calcados não em registros do real, mas em noções de amar, sofrer, perder e reconquistar que o Cinema ensinou a eles.
Embora não tenha – ainda – o peso destes cineastas, mas já tenha um lastro autoral com base na contínua discussão da farsa como prática de sobrevivência, James Mangold fez da saga baseada nas aventuras do mutante de guerras metálicas – “Wolverine – Imortal” (2013) e o brilhante “Logan” – a instância do meta: não o meta-quadrinho, mas o meta-filme. Por um bom tempo das quase 2h20 minutos de Logan, esquecemos estar diante de um filão consagrado: o “filme de super-herói”. Estamos, sim, num thriller sobre formação familiar, bem parecido com os que Sam Peckinpah fazia entre os anos 1960 e 70, sobretudo “Os Implacáveis” (1972). A secura narrativa é a mesma, mantendo os pés fincados no realismo, com um ritmo de ação febril, sem abrir mão de sua amargura estrutural.
Frenético e doído, “Logan” começou sua carreira pelo Festival de Berlim e foi a circuito com fome de fortunas. Tem um tempero de “Stranger Things” na fuga de Logan para proteger a menina Laura Kinney (Dafne Keen) da tropa dos Carniceiros chefiados por Donald Pierce (Boyd Holbrook, de “Narcos”).
Neste filmaço, reina a metalinguagem, usada por Mangold ao mostrar gibis na tela várias vezes, como um registro mítico de um herói que se esforçou para não deixar laços atrás de si. Mas estes laços, na trama, foram criados à força de seus feitos. E, na vida real, a mitologia é sequela da evolução (espantosa) de Jackman na pele deste semideus caído.
Fonte: Agência Estado