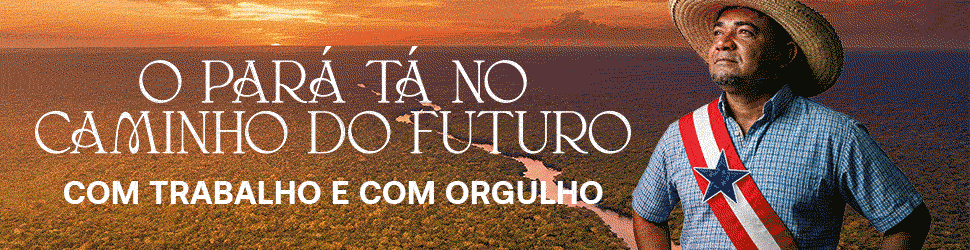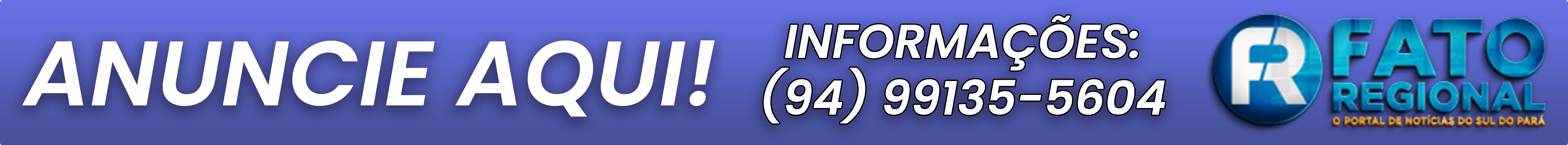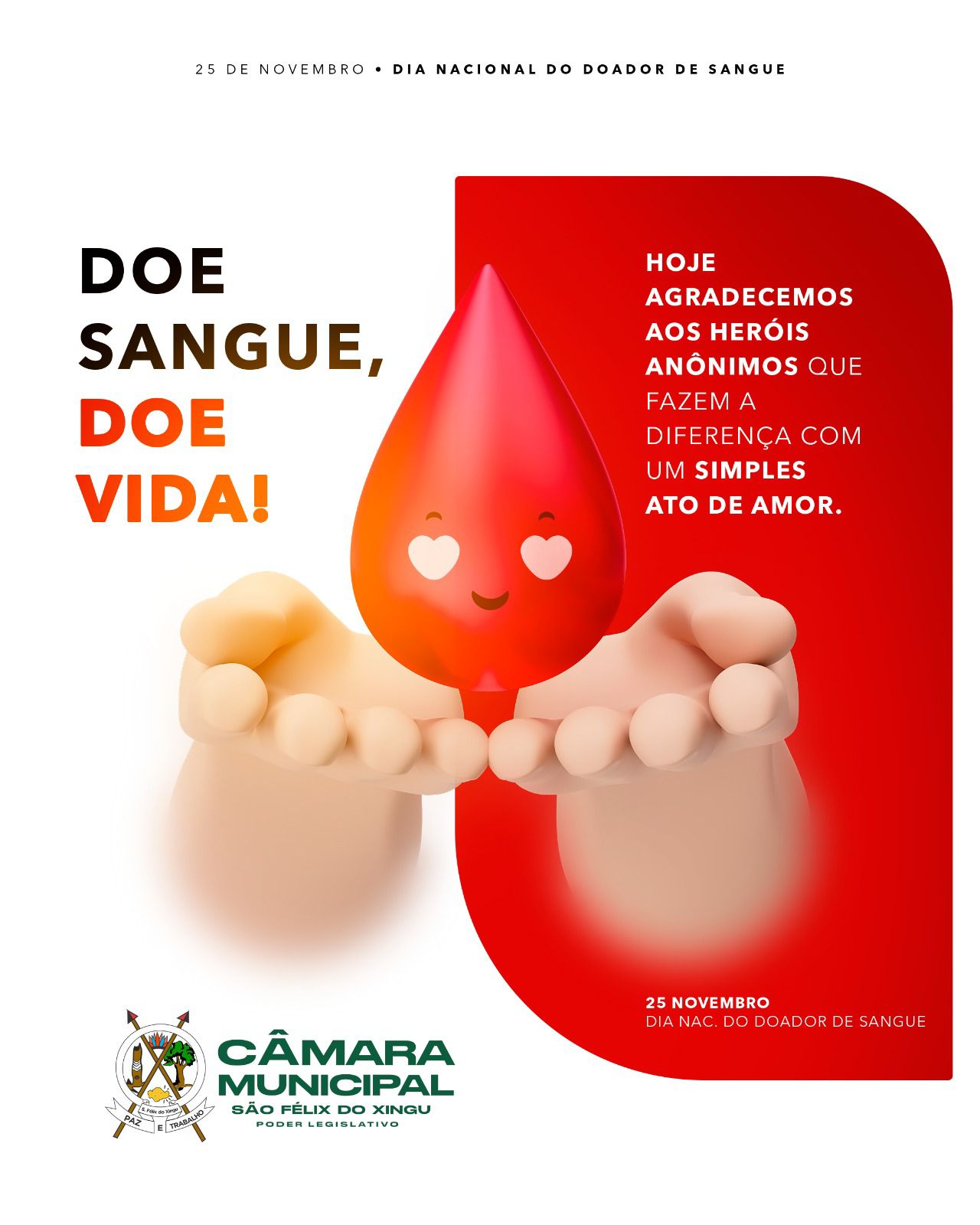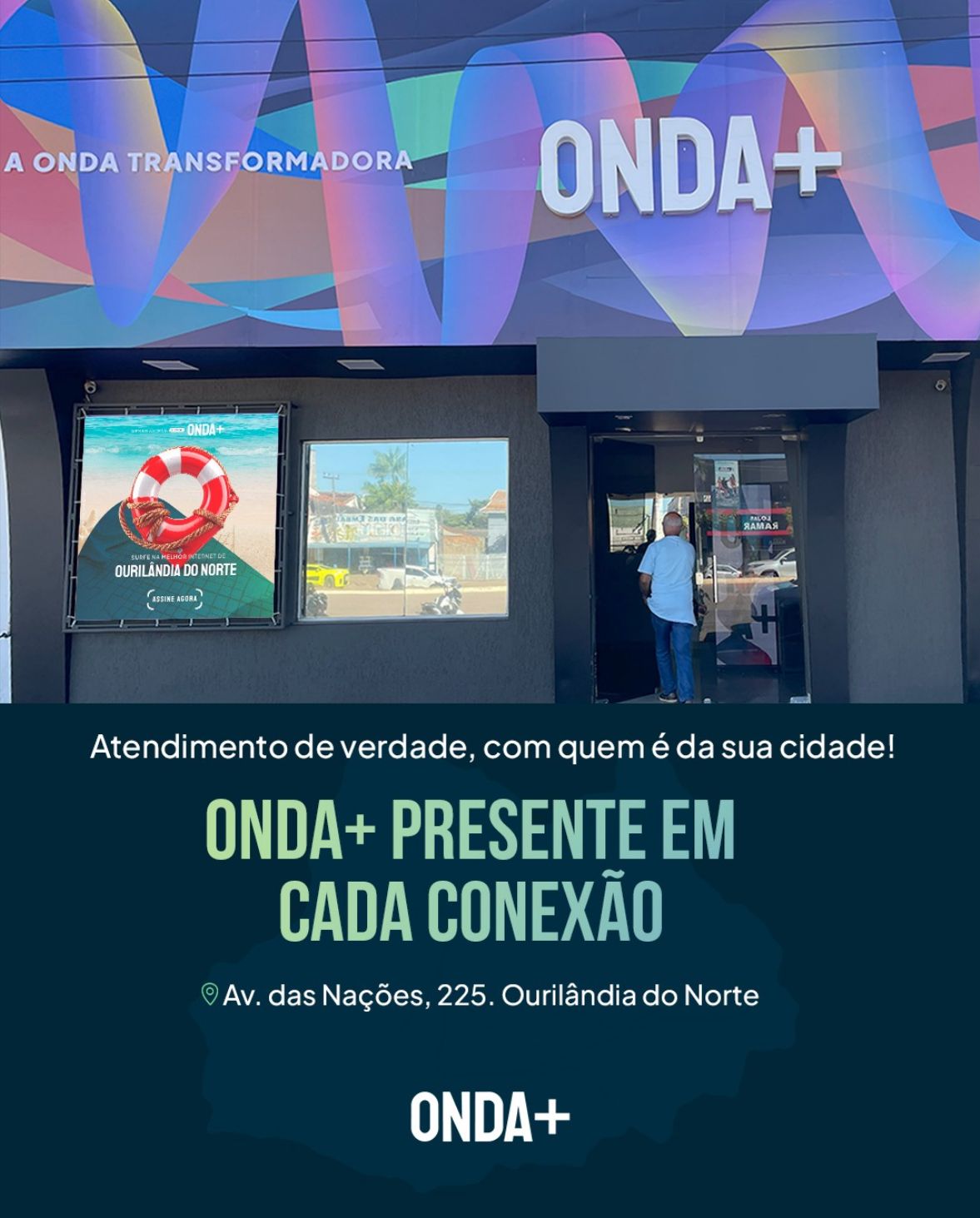Quase 4 em cada 10 jovens brasileiros pensam duas vezes antes de ter filhos por medo do futuro climático. O dado, revelado por uma pesquisa internacional publicada na revista The Lancet Planetary Health, escancara o impacto emocional da crise ambiental, que ultrapassa o campo científico e político e alcança a saúde mental.
Na Amazônia, onde secas, queimadas e cheias extremas já fazem parte da realidade, a ecoansiedade se traduz em angústias diárias, insegurança sobre o amanhã e mudanças no modo como as pessoas se relacionam com o território e com a natureza.
Em Belém, capital paraense, a ansiedade climática se manifesta em períodos de estiagem prolongada, ondas de calor extremo e eventos como enchentes repentinas.
Esses fenômenos se somam a um cenário urbano desigual, com periferias pouco arborizadas, mal ventiladas e mais expostas às consequências das mudanças do clima.
O psicólogo Robert Rodrigues, professor da Wyden, aponta que o aumento da frequência de queimadas, enchentes e picos de calor tem provocado medo, frustração e sensação de impotência na população. Segundo ele, “quando o planeta adoece, as pessoas adoecem juntas”.

Vulnerabilidade das comunidades
Na zona ribeirinha de Belém, um exemplo recente da vulnerabilidade das comunidades à crise ambiental ocorreu na ilha do Combu. Devido à intensificação da erosão provocada pela elevação do nível do rio, a região passará a receber monitoramento constante da Defesa Civil.
A medida é resultado de uma mobilização popular que denunciou a situação crítica enfrentada por moradores das localidades de Paciência, Piriquitacuara e Murutucum.
Rodrigues observa que o sofrimento causado por esses eventos extremos deixa marcas profundas na saúde mental das pessoas, que passam a temer o próximo desastre e a perder a esperança de estabilidade.
Para ele, compreender a saúde mental em tempos de emergência climática exige atenção ao território e ações que fortaleçam o vínculo das pessoas com a natureza, por meio de hortas comunitárias, jardins suspensos e educação ecológica popular.
O psicólogo chama atenção para o contraste entre realidades simultâneas no país: enquanto o Sul enfrentava trágicas enchentes em 2024, a Amazônia vivia uma das maiores estiagens da história recente.
O Rio Madeira, em Rondônia, secou completamente, e outros rios no Pará também foram afetados, dificultando a pesca artesanal e a mobilidade das populações ribeirinhas.
Em Santarém, no oeste paraense, a fumaça das queimadas encobriu a cidade por semanas, gerando doenças respiratórias e um medo constante de que tudo se repetisse.
Ele reforça que essas consequências não se devem apenas ao clima, mas ao desmatamento, às queimadas, ao assoreamento dos rios e ao modelo de produção capitalista que intensifica a destruição ambiental.
Rondônia, inclusive, já está entrando novamente no chamado “verão amazônico” — período de estiagem que se estende de junho a novembro. É nesta estação que, por causa das chuvas escassas e das temperaturas elevadas, as condições se tornam mais propícias à propagação do fogo.
O biólogo Bruno Esteves Conde, professor da Estácio, complementa a análise ao destacar que a destruição ambiental ameaça modos de vida inteiros na Amazônia. Povos indígenas, ribeirinhos e agricultores familiares veem seus territórios e saberes em risco, o que gera sentimentos de perda, revolta e o que ele chama de “luto ecológico” e “solastalgia” — a dor de ver o lugar onde se vive se transformar de forma irreversível.
A pesquisa da The Lancet não é a única a apontar o impacto emocional da crise ambiental. Um levantamento da consultoria Nexus, encomendado pelo Movimento União Brasil, revelou que 82% dos brasileiros com mais de 16 anos já ajudaram vítimas de desastres naturais.
Contudo, 77% nunca tomaram medidas para se proteger de tragédias climáticas e metade da população não sabe onde buscar informações em caso de emergência. Os dados revelam que, apesar da solidariedade, ainda falta preparo e acesso a informações claras e acessíveis.
Em Belém, onde projeções do Climate Impact Lab indicam que a cidade pode se tornar a segunda mais quente do mundo até 2070 — com mais de 200 dias por ano de calor extremo —, a juventude das periferias é especialmente vulnerável. Vivendo em territórios já marcados pela falta de saneamento, moradia digna e acesso à educação, esses jovens enfrentam múltiplos medos que vão do desemprego à crise ambiental.

Engajamento coletivo
Apesar dos desafios, o engajamento coletivo tem mostrado caminhos possíveis. A exemplo disso, após a tragédia no Rio Grande do Sul, instituições como Wyden, Estácio, Ibmec e Idomed se uniram em uma campanha nacional de arrecadação de donativos, mobilizando estudantes, docentes e colaboradores para doações de alimentos, roupas, água e produtos de higiene. Para Rodrigues, esse tipo de mobilização também é cuidado em saúde mental, pois transforma o medo em ação.
Bruno Esteves defende o fortalecimento da ciência cidadã e a valorização dos saberes tradicionais. Iniciativas como agroflorestas produtivas, brigadas comunitárias contra o fogo e o uso de tecnologias indígenas no monitoramento territorial mostram que é possível promover desenvolvimento sem destruir a floresta.
A educação ambiental, segundo ele, precisa dialogar com as juventudes amazônidas e mostrar que é possível viver da floresta, cuidando dela.
(Da Redação do Fato Regional, com informações da Assessoria de Imprensa da Wyden Instituição de Ensino Superior).